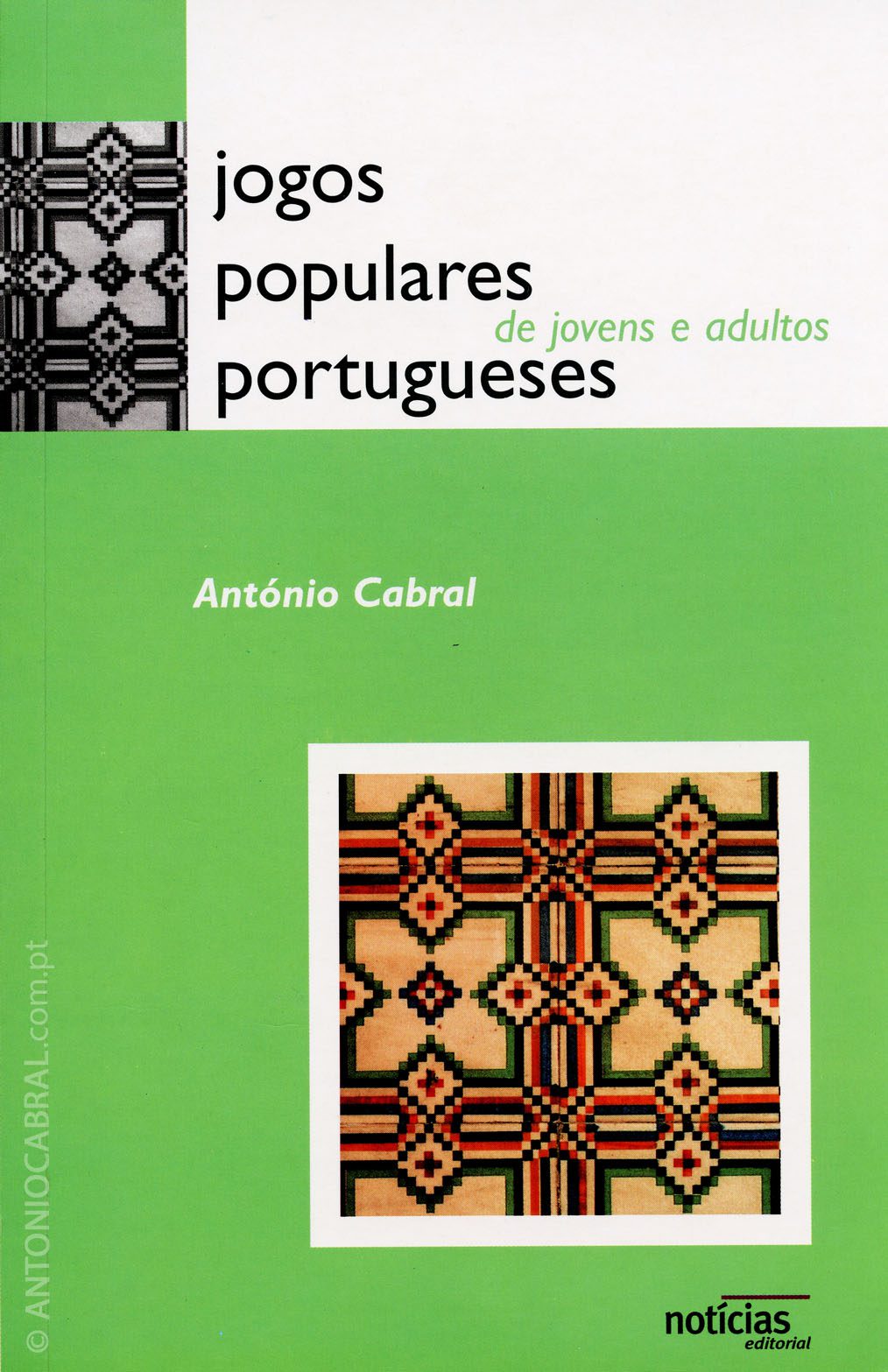Eu era ainda pequeno, 6 ou 7 anos, talvez um pouco menos, um pouco mais, tento abrir uma janela nos véus ondulantes da memória, ele subia pela rua acima, chongla-chongla, e nós espreitávamos pelas grades do adro, uma curiosidade receosa, uma quentura a subir aos olhos e a fazê-los arder em bolinhas azuis. Era uma coisa parecida com um cavalo, a caveira de um cavalo, o rabo de cavalo, os pés eram de homem, via-se bem, tinha chocalhos, chongla-chongla, por todo o corpo, e ao passar por nós vomitou um fumo esbranquiçado, fugimos, eu e os outros rapazinhos, ainda tínhamos na mente o fumo do enxofre, pestanas de caveira infernal, de que o padre falava na missa. Fugimos, mas regressámos, logo a seguir, uma coisa a puxar-nos outra vez para as grades, onde está o cavalinho, perguntávamos uns aos outros, tinha desaparecido, as bolinhas azuis diziam-nos que voltaria no ano seguinte.
Voltou durante alguns anos. Hoje está aqui no meu escritório. Pergunto-lhe por que já não passeia os seus grandes mistérios pelas ruas da minha terra, ele lança-me uns olhos mudos que num chongla-chongla quase imperceptível tilintam na máquina de escrever, e desaparece como um fantasma.

Dei, há pouco tempo boleia, de Alijó para o Castedo, ao senhor Raul Saminuna, homem já trôpego, a quem falei do Cavalinho. O Cavalinho era sempre ele e, quando ele deixou de aparecer, por mor de uma cinza que deitou nuns rufias, “um sarilho dos diabos”, nunca mais houve Cavalinho. “Ainda lá tenho alguns apetrechos”, disse-me. “E a caveira?”, perguntei-lhe. Tinha-a deitado fora. Quis eu saber como a arranjava. Simples: quando morria um cavalo, ia, passados tempos, ao lugar onde o tinham enterrado e sacava-lhe a cabeça que limpava e desinfectava com uns “pozes”. Qual o significado do Cavalinho é que ele não me soube dizer. Era uma coisa que vinha de longe, de que gostava, “pronto”, sentia lá dentro “não sei quê”, meter medo e fazer rir ao mesmo tempo.
Será o Cavalinho uma versão poética e burlesca do lobisomem? Representar e desfigurar uma coisa é uma forma de a negar, retirando-lhe o estatuto de realidade independente e reduzi-la à sua dimensão fantasmática. O lobisomem nesta ordem de ideias é assim o precipitado imaginário dos medos nocturnos. O Cavalinho poetiza-o em magnífico jogo. De notar que em Castedo do Douro a tradição atribui ao lobisomem a forma conjunta de cavalo e cavaleiro, este com aguilhada reluzente que tanto pode furar uma estrela como os olhos dos curiosos que vierem à janela. Mas o Cavalinho pode ter mesmo outra leitura simbólica, desde a de um diabrete em simbiose com o espírito da vegetação (uma espécie de fauno ou sátiro que ficasse da antiguidade), até à de um adeus tragicómico às solicitações mundanas, o que a caveira parece indicar.
O Cavalinho entrou-me de novo no escritório, chongla-chongla, chongla-chongla, é o Diabo, asas de Diabo, tem asas como S. Miguel e um olho ciclópico, crinas de cavalo, crinas em arco ao vento a dizer-lhe que este ano os gafanhotos vão caber todos na copa do diospireiro, construirão aí as suas casas de mel e a manhã de domingo cobrir-se-á de romãs, cheiro de cavalo, crinas de cavalo, asas de S. Miguel, e um olho, cavalo das estrelas à minha janela, um olho apenas, marinho, lá no fundo está uma ilha, Ulisses fala com a ninfa, empresta-me a concha dos teus olhos, o guizo dos teus olhos, o mistério de tanta meninice.
Cavalinho, vem sentar-te imediatamente na borda do meu tempo.
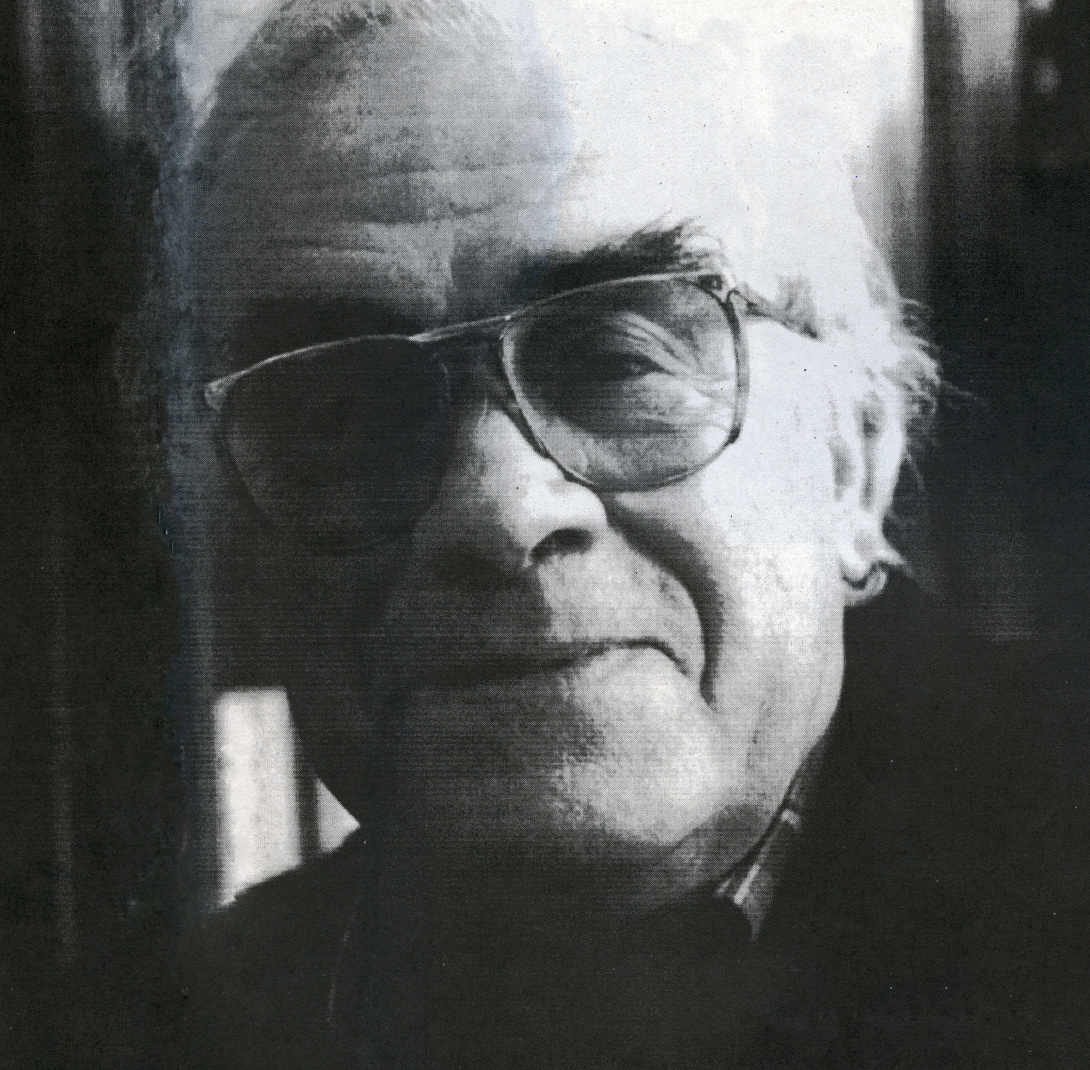
António Cabral [1931-2007] foi um poeta, ficcionista, cronista, ensaísta, dramaturgo, etnógrafo e divulgador da cultura popular portuguesa.