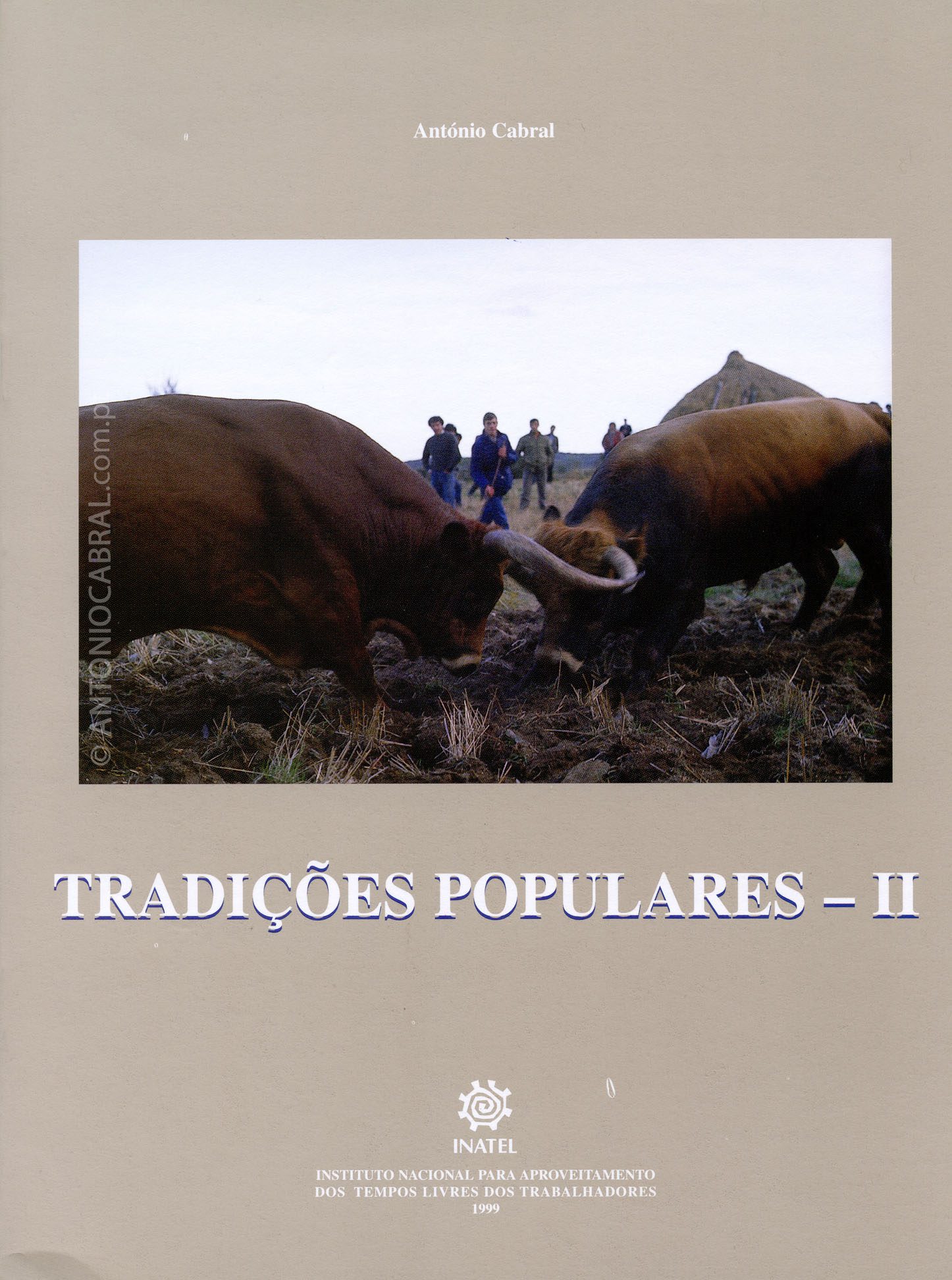Gordo, gordinho, matulão, o porco chega ao terreiro, conduzido por aquele que havia de lhe pôr termo aos dias de ceva. Mirones, apesar do chuvisco frigidíssimo. Motivo para estar ali um garrafão encarapuçado por um púcaro de alumínio. «Vai um?» «Claro!» Dantes, já lá vão uns anitos, quando eu assistia ao ritual, reparava em um ou dois molhos de palha que se destinavam a faxucar o animalzinho; agora olho, com alguma nostalgia, para uma botija de gás. O fumo da palha tinha outro encanto, carregada que era de símbolos sacrificiais.
Um facalhão, tachos, um balde e a senhora Otília, lesta, apesar da idade, a encher um regador no fontanário próximo. «Vamos a isto, rapazes» – voz de comando do senhor Álvaro Vilela que prende uma corda na boca do animal, segurando-a bem entre as duas queixadas. «E o banco? Traga o banco», diz a afanosa Otília. «Qual banco, responde o dono. – Vai ser aí em cima do muro». E eu a cismar: aquele bloco ancho de cantaria sempre tinha mais parecença com uma pedra de ara. A azeitona de uma oliveira por onde eu enfiava a máquina fotográfica estava cheia de olhos. Profundos. Vinham de onde? «Espere aí: deixe-me beber mais uma pucarada» – voz de um rapazola que esfregou as beiças com as costas da mão.
E eu a cismar: aquele bloco ancho de cantaria sempre tinha mais parecença com uma pedra de ara. A azeitona de uma oliveira por onde eu enfiava a máquina fotográfica estava cheia de olhos. Profundos. Vinham de onde?
O porco, desconfiado do sítio, tinha fossado uma borda de rango e leitugas, abrindo-lhe um sulco direito de sachola. Os cochilros que inundavam a parede espreitavam a cerimónia. Quatro homens aferraram-se ao colosso e foi então que o berreiro a sério começou. A proximidade do sacrifício é o melhor estímulo da sensibilidade. As mãos dos homens confundiram-se num momento com as da besta. A razão e a força. As queixas de um na ufania do outro. Sempre assim foi – pensaria uma leituga prostrada na lamiça.
Ao tempo em que a senhora Otília aparava o sangue ainda vivo num tacho, frémitos de cozinha alegravam o coração dos circunstantes. Alguém voltara os olhos, quando o facalhão perfurou a peitaça do animal. «Ora, não sejas maricas» – teve de ouvir. «Venha o maçarico, venha o maçarico». E o fogo acendeu júbilos novos nas sedas do ridente chacim. Amolecido com água quente, o couro foi raspadinho com lascas de pedra rugosa e, logo a seguir, pendurado na loja onde o tal maricas se pôs a farejar. Pudera! Já a senhora D. Maria José descia com uma travessa de bolos de bacalhau e fatias de salpicão a dizerem «comei-me». Sape, gato – voz a ralhar a um ougado, porque o senhor magarefe ainda estava rec-rec com a alimária. Sape, gato – repetiu a patroa, ao descer novamente as escadas com um açafate de trigo de quartos numa mão e uma caçarola de sangue cozido com alho picado na outra. Já o tal se havia desougado, fazendo mão baixa à travessa. Interim, Álvaro Vilela tinha aberto o formoso bestigo, de alto a baixo, e fazia a colheita do interior. Primeiro, as tripas, que encheram um balde; depois, a colada: fígado, pulmões e coração. Finalmente, os untos ou banha que, depois de atravessar três bilhardas à entrada da barriga, para efeito de arejamento, deixou a pingar de uma delas.
«Tens-me cá uma colada», ouvi uma mulher dizer ao tal que parecia maricas e que acabava de abichar uma rodela de salpicão. Vim a saber que o que ela queria dizer era que o outro era um mandrião. Comia e dormia. Como o porco. A gente riu-se. E, quando mestre Álvaro acabou de lavar as mãos, fiquei admirado por ele não meter à boca mais do que um bolo de bacalhau, recusando os pedaços quentinhos de sangue cozido – que para mim estavam uma delícia.
Foi neste inverno, em S. Lourenço de Riba Pinhão. Tal como no ano passado em Covelo, ali para os lados de Tábua, em casa do senhor José Domingos, onde se juntaram nem mais nem menos do que um jornalista, três escritores e um editor. O que quer dizer que…
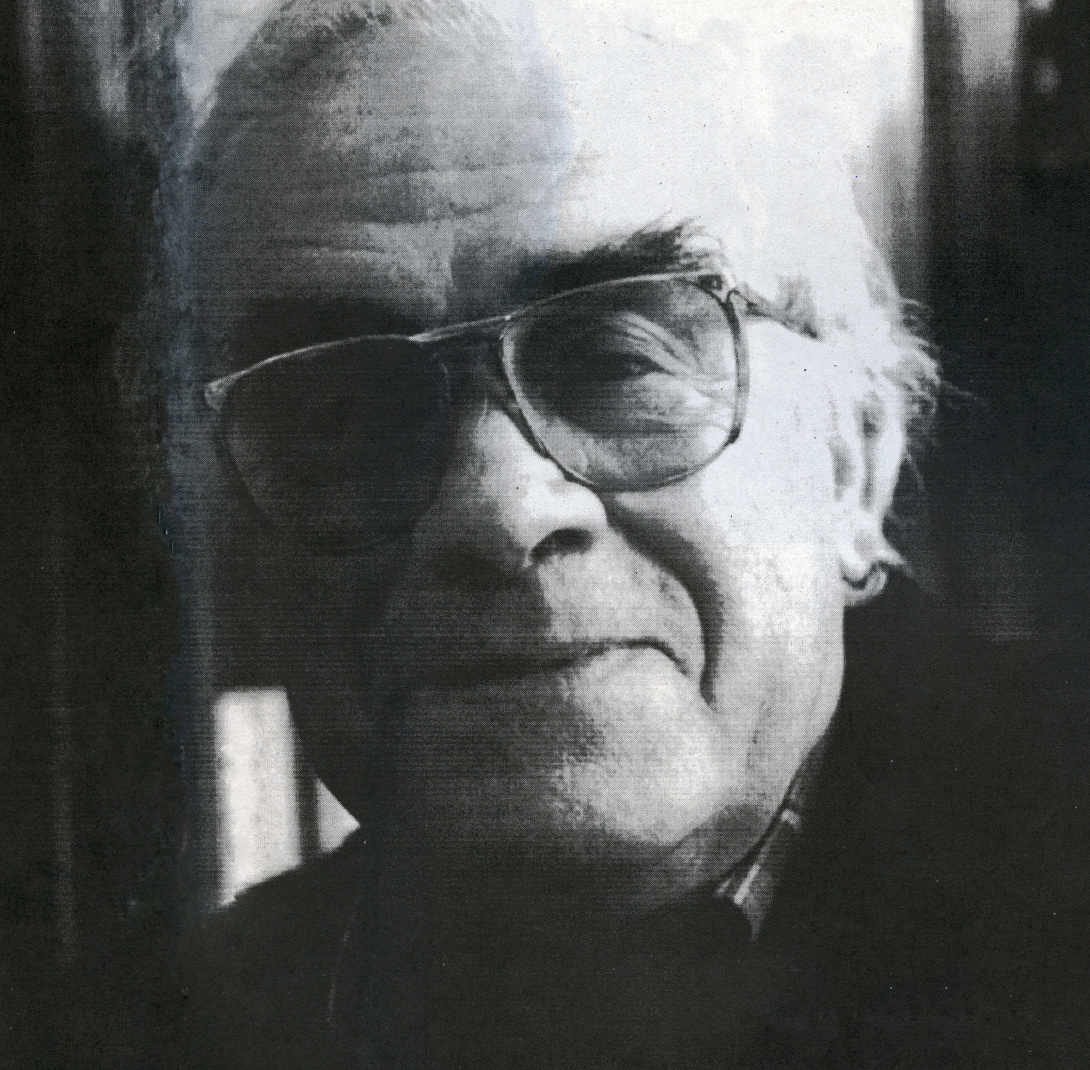
António Cabral [1931-2007] foi um poeta, ficcionista, cronista, ensaísta, dramaturgo, etnógrafo e divulgador da cultura popular portuguesa.