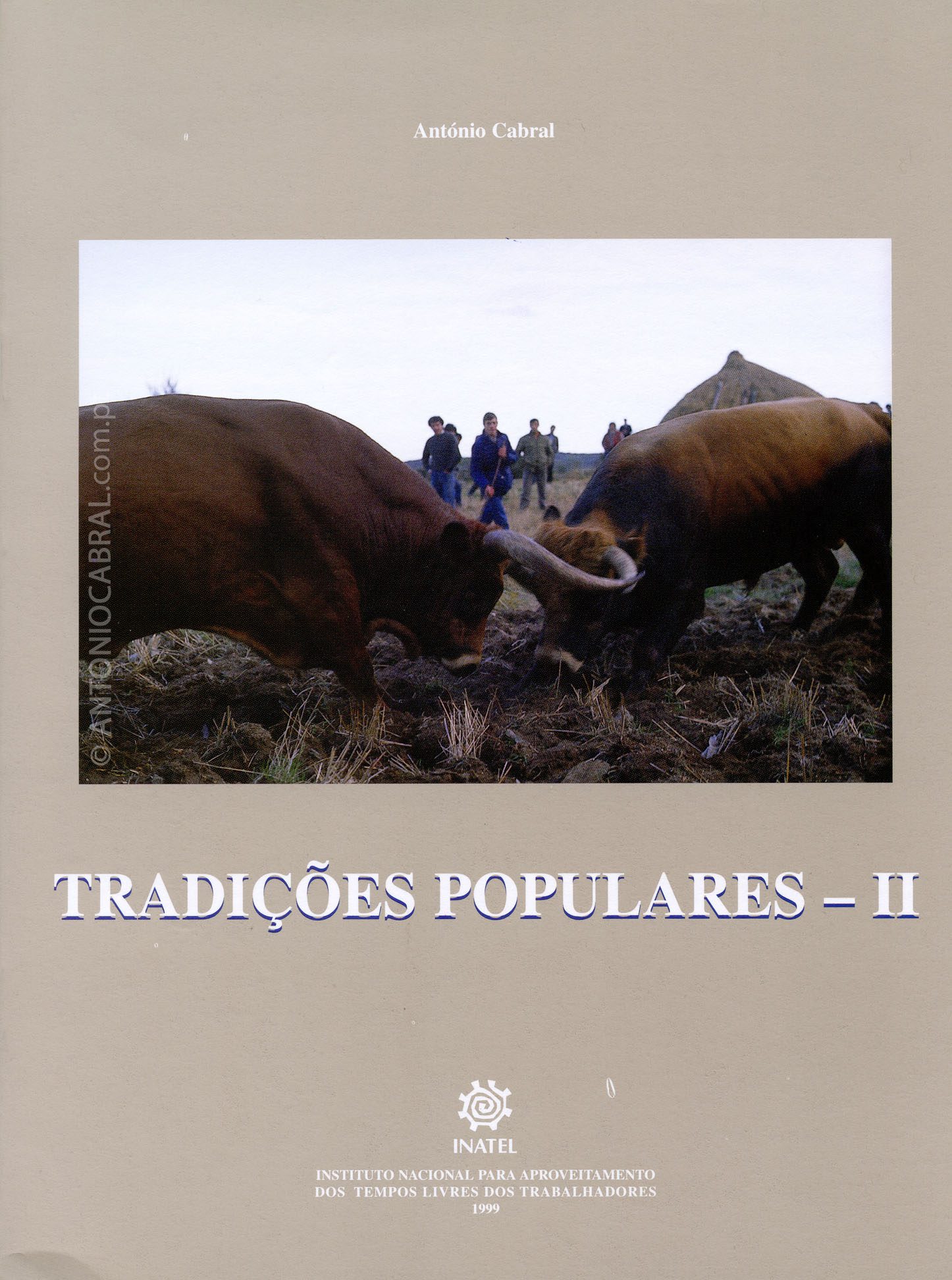Assim, com este pirótico chamadouro, fui abordado num areal de Vila Nova de Mil Fontes. E isso não me chamaria especial atenção, se durante a viagem, dois dias antes, ao longo de seiscentos quilómetros, rumo à foz do Mira (onde os cinquenta condenados para ali enviados por D. João II, na “mira” de povoamento, torceram o nariz – incrível!), eu não viesse a ser alvejado parecidamente, de paragem em paragem. O que me fazia sorrir. A mim e a três familiares, quando, depois de alertados, se puseram de ouvido à coca.
Em Antuã, recolhido ao búzio do automóvel, após um cafezito, senti um piparote no p´ara-brisas – ouça lá, ó chefe: onde são agora os quartos de banho? Era um cavalheiro que eu vira andar de canto em esquina, às espreitadelas. Lá lhe respondi, sem lhe perguntar por que me tratava assim, pois eu na verdade conhecia bem o portuguesíssimo costume. Embora me apetecesse desfazer uma teia de aranha: este, como depois o de Mil Fontes, olhava-me de cima (eu estava no primeiro caso recostado e no segundo deitado) e a fala, contrariamente, era a de quem olha para cima.
Já com a famelga aconchegada na carripana e desembaraçada do nevoeiro chatinho que lá fora acaçarolava faróis e uma rapariga a laurear o queijo, levada em jeito de esqui aquático por um cãozinho que garbosamente esticava a trela – violino de uma só corda onde o arco de alguns olhares ronronava, lembrei-me de comentar o sucedido.
– Olha que novidade! Ainda ontem, quando foste ao banco, te disseram: com licença, patrão: eu estou primeiro.
Era verdade. Pressas, confiança e um remoque justíssimo, mas prateado. Claro que se, apesar das pratas, eu fosse mesmo patrão do remoqueiro, este virava o remoque do avesso com uma chapelada toda ouro. O homem, seja onde for, é um viveiro de mesuras prontas a alcandorarem-se como as lagostas.
Pressas, confiança e um remoque justíssimo, mas prateado. Claro que se, apesar das pratas, eu fosse mesmo patrão do remoqueiro, este virava o remoque do avesso com uma chapelada toda ouro. O homem, seja onde for, é um viveiro de mesuras prontas a alcandorarem-se como as lagostas.
Antes de Porto Alto, viam-se montes gordos de melões com a parentela do costume arrumada por secções calculadamente espiolhadas pelos passantes.
– Quanto?
– Cinquenta, patroa – disse o vendedor à minha mulher. – É aproveitar, é aproveitar, que eu hoje tenho as mãos rotas. Quantos quilos? – O homem que rebentava pelas costuras gestuais deu comigo a apalpar um almeirim. – Apalpe à vontade, ó mestre, mas, se lhe enfiar um dedo no cu, vem de lá uma esforricadela, que o gajo tem sangue bravo, cavalheiro.
Afinal, davam-se bem comigo os apelativos de chefe, patrão e mestre, que é o que se diz por vezes a um desconhecido em fala de ocasião ou de quem se requer alguma coisa. Mas por que ventos a minha mulher não podia ser mais do que patroa? 1 E o tratamento de cavalheiro, este já marcado por um sarcasmozinho resultante da minha curiosidade que, no entender do locandeiro, camuflaria alguma desconfiança?
Na hierarquia dos nomes é certo que cavalheiro deveria merecer o lugar de topo pela ideia de honrada decência que se lhe liga; curiosamente, o português foi buscar a palavra ao castelhano “caballero” (em português cavaleiro), que designa tanto um fidalgo como um membro de uma ordem militar e religiosa e que em tempos idos gozou de boa fortuna. A burguesia tonitruante da Revolução Francesa preferiu o nome de cidadão (“citoyen”) que opôs ao usual senhor (“monsieur”). Entre nós, o cavalheiro e o cidadão mantêm-se. Mas imagina-se que o homem (senhor?, sujeito?, indivíduo?, tipo?, etc. – mais pano para mangas) que me pediu lume na praia se me dirigia assim: “dê-me aí lume, ó cavalheiro”. 2 Parece que a abordagem não primava pela delicadeza; e seria despropositado, se não ridículo, o uso de cidadão. As palavras também têm uma história, aquilo a que os linguistas chamam diacronia. E o texto depende do contexto.
Certo, certo, é que eu dei lume ao cavalheiro (note-se como o emprego narrativo pode anular certa aspereza) soerguendo-me e estendendo-lhe o “bic”. Mas, quando eu pensava que do olhar da sua esposa ia soltar-se uma borboleta azul a contracenar com o fumozinho do tabaco, ouvi: “Rais ta partira, homem, que nunca mais perdes o vício!” Alguém a meu lado exultou: sorriso alado que foi juntar-se a duas gaivotas altas e olhareiras, patroas lá do sítio.
Minutos antes de terminar esta colaboração, ia a atravessar a rua e uma cigana espigadota vem ter comigo: “Foigo, sinhori”. Antes de acender o isqueiro, ripei de uma agenda, tirei uma folha e escrevi, sem lhe perguntar se sabia ler: “Dê-me aí lume, ó chefe”. E disse: doravante é assim que deves pedir “foigo”. Leva.
Não sabermos o nome de toda a gente, ao menos dos vivos, dos que partilham connosco o planeta! Ao menos – será uma ambição por aí além? – ter a memória de Ciro, aquele rei persa que sabia de cor os nomes de todos os soldados do seu exército.
- Em Eusébio Macário diz Camilo que o homem de Barroso e terras limítrofes se refere à sua mulher como “a minha patroa”. Ainda hoje é assim e não só por aquelas bandas. ↩
- Neste caso como noutros convém lembrar que o sentido depende muito do tom de voz. Basta ver as diferenças entre uma entoação sobranceira, desdenhosa, suplicante ou irónica. A entoação, como K. Bühler muito bem observou (1934), é um dos modos de comunicar. Um polícia a quem, há dias, ouvi dizer sobranceiramente a um automobilista “tire daí o carro, ó chefe” teve de engolir como resposta “tiro, mas olhe lá: eu não sou o seu chefe”. ↩
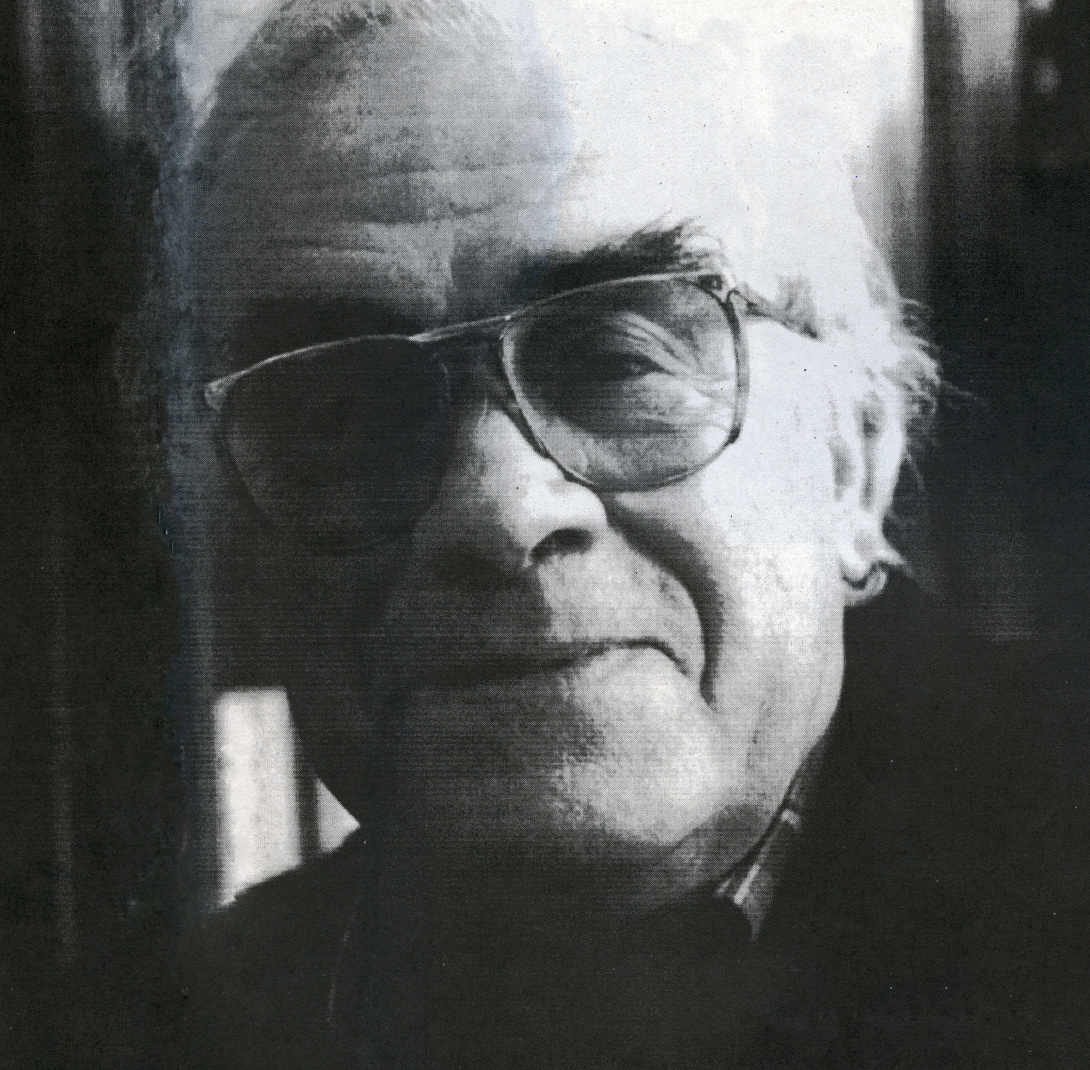
António Cabral [1931-2007] foi um poeta, ficcionista, cronista, ensaísta, dramaturgo, etnógrafo e divulgador da cultura popular portuguesa.