Nestas historinhas de galegos a quem o Douro muito deve mantenho, quanto à estrutura diegética, o que me foi contado sobretudo pelos meus pais, quando eu era ainda criança, e que numas curtas férias de Entrudo, passadas com a minha mulher em Castedo do Douro (8-13, Fevereiro, 2002), relembro com a minha irmã que me aviva a memória. Emprego algumas palavras não portuguesas tal como sempre as ouvi; e outras ainda que fazem parte da fala regional. Acrescento que no Douro, desde meados do século XVIII até princípios do século XX, os galegos eram empregados nos trabalhos mais duros, razão por que, segundo me contou Isaac Estravis, na sua aldeia natal, perto de Ginzo de Lima, as mães, quando se querem fazer obedecer pelos filhos pequenos, ainda hoje dizem: faz isto, se não boto-te ao Douro. Entravam pelas bandas de Montalegre e de Chaves, donde também vinham alguns homens, o que explica que certas historietas, a começar logo pela primeira (de três tenho eu conhecimento e Bento da Cruz regista-as no seu livro “Histórias da Vermelhinha” de 1991), aí se tenham divulgado, com variantes.
Estima-se que a colónia galega atingiu cerca de 40% dos trabalhadores diários, sobretudo nas vindimas. Nos roteamentos ou saibramentos os nossos vizinhos demoravam-se muito mais. Muitos acabaram por se radicar e ainda hoje há famílias de ascendência galega reconhecida. Havia trabalhadores doutras proveniências: montanheiros (das zonas montanhosas a norte do rio), longroivos (de Longroiva – os que vinham das montanhas a sul), vareiros (da zona de Ovar) e minhotos, etc. A presença vareira e minhota foi-se diluindo. Repare-se porém nesta sugestiva quadra popular:
A Régua era bonita,
se não tivesse dois erros:
passeada de vareiros,
ladrilhada de galegos.
Quanto às historinhas, uma nota sobre o começo. A uma senhora de Lagoaça (Freixo de Espada à Cinta) ouvi a seguinte versão: “Era uma vez vint’once galegos como vint’once burros e o mais pequeno era com’a mim”. Perguntei por que é que os galegos eram comparados a burros e ela (Amélia Figueira, agora em 2004 com 98 anos), disse-me prontamente: “Então não vê? Eram grandes como burros. Só um é que era pequeno”. Tal interpretação não invalida a que pode deduzir-se destas facécias em que a esperteza dos nossos vizinhos deixa algo a desejar, o que de resto coincide com anedotas que ouvi em outras regiões de Espanha. A passagem relativa aos galegos que só sentem as suas pernas à base de pancada, tem também outra versão em Lagoaça. A estúrdia é dada logo no início da narrativa, quando os galegos (desistindo da contagem porque o contador, não se contando a si, era incapaz de acertar com o número) pediram a um português que os contasse. Este, postando-se à entrada da ponte, propôs aos galegos que fossem passando, um a um, enumerando-os à bordoada, até ao número trinta e um (vint’once).
Em “Cantares Galegos” (1863) Rosalía de Castro fez-se eco do que ela julga uma injustiça e aconselha: ”Castellanos de Castilla, / Tratade bem ós galegos”. A Galiza anedótica de Portugal tem sido o Alentejo, o que num caso e noutro, significando uma graçola étnica bem mordaz, acaba por se converter num sorriso folclórico.

Caíram todos ao rio
Era uma vez vinte e cinco galegos como vinte e cinco burros que traziam vinte e cinco palos como vinte cinco traves. Atraídos pela fama de boa chelpa para os que trabalhavam nas vinhas do Douro, largaram por montes e vales, chegando em pleno Inverno, tempo de podas. Ao pé do rio, depois de tão longa caminhada, lembraram-se de verificar se algum deles teria ficado para trás e o mais corpulento, com ares de chefe, pôs-se a contar os do rancho, um a um. Só contava vinte e quatro e disse:
– Falta um.
Voltou a contar, mas como não se contava a si próprio,
– Coño! – disse. – Onde se terá metido o nosso compañero?
Puseram-se todos a magicar e a procurar por ali. Até que o matulão se debruçou numa ponte.
– Vinde cá, rapazes, vinde ver. O nosso compañero está no rio. Temos de o ir buscar, se não afoga-se.
Um a um, olharam todos para baixo e, como cada qual via a sua imagem na torrente, concordaram.
– Coño! E como havemos de lá ir?
– Fácil – alvitrou o chefe. – Eu penduro-me da ponte. Tu desces por mim abaixo e agarras-te aos meus pés, aquele desce também por nós e agarra-se aos teus e assim por diante – ia dizendo e apontando. – O raio da ponte é altarica, é, mas nós somos valentes e havemos de chegar à água.
Meu dito, meu feito. Estava o cordão formado, quando o do topo, estafado de aguentar com tanto peso, disse aos outros:
– Esperade aí, compañeros. Vou cuspinhar nas mãos que já me começam a esticar e a doer.
Desligou-se do bordo da ponte e caíram todos ao rio, chape, chuuu. Lá conseguiram sair, depois de muito batalhar estenderam-se no areal a secar ao pouco sol que restava da tarde. Estava frio e, como se aproximava a noite, foram à cabana de um pescador e pediram-lhe um agasalho, fosse o que fosse, para dormirem ali perto, debaixo de um salgueiro. O pescador, que sim-senhor e mais que também, emprestou-lhes uma rede de pescar, já velha e esfiapada. Agradeceram muito e lá foram à soneca.

Que frio fai lá fora
Aquela noite ficou na história do Douro como das mais frias de que há memória. Os homens regelaram até ficarem inteiriçados. Um deles, a certa altura, meteu o dedo num buraco da rede e cantarolou:
– Que frio fai lá fora!
Os restantes, idem, aspas, e começaram a encostar-se uns aos outros, à procura de alguma quentura que por ali andasse perdida. Ouviam-se então ruídos, como se foram de castanholas. Os próprios sonhos ficaram encodados. De manhã, mal acordaram aos primeiros raios de sol, queriam erguer-se, mas não podiam. E, quando iam para falar, a água não corria. Até que o pescador passou pelo sítio e um deles, a quem a luz tinha conseguido entrar na boca, lá se fez entender:
– Ó meu senhor, faça a esmolinha de me dizer quais são as minhas pernas, pois quero-me levantar e não acerto com elas.
O pescador, que ia com um fueiro na mão, não teve outro remédio senão malhar a bom malhar nas pernas do suplicante.
– Vós também quereis?
– Se faz favor.
– Estas são as minhas pernas. Muito obrigado, patrón – gaitou o primeiro.
– E estas as minhas. E estas as minhas.
Repetiam-se uns aos outros, como se estivessem a ser desembrulhados. O pescador ria-se a bom rir, enquanto eles iam arribando, tem-te-não-caias. E. depois de codearem, foram-se dali à procura de trabalho que não custou a arranjar, pois eram sãos como peros e tinham boa cara. Etc.,etc., até que chegou o Verão e o trabalho começou a escassear. Continuavam unidos, porém. Para o que desse e viesse.
in Douro – Estudos e Documentos, Outubro 2004
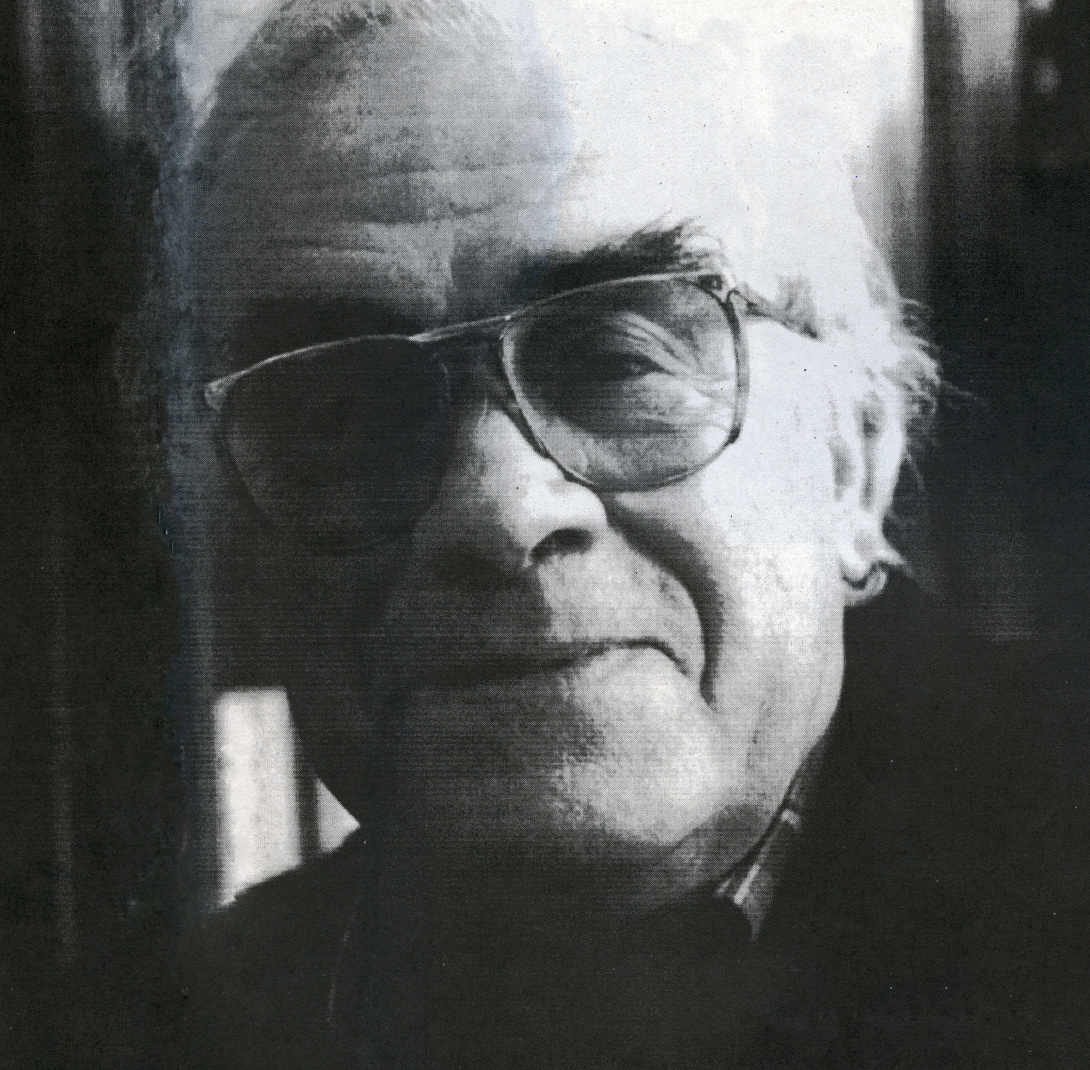
António Cabral [1931-2007] foi um poeta, ficcionista, cronista, ensaísta, dramaturgo, etnógrafo e divulgador da cultura popular portuguesa.
Orlando Miranda
Sempre o Douro de quem lá nasceu e quem nele trabalhou, contado na sua linguagem mais popular, com o conhecimento profundo da sua antropologia.
Obrigado por mais este texto, próprio para ser contado à lareira que se aproxima.
Alzira Cabral
Como vai estimado amigo? Contei estas histórias ao meu neto. teria ele uns seis ou sete anos, que adorou. No dia seguinte, ao acordar, pediu-me que voltasse a contar aquela história muito burra.
Um abraço extensivo a toda a família.